| Foto:José Carlos Carvalho - Jaime Abello |
É o diretor-geral da Fundação Gabriel García Márquez para o Novo Jornalismo Ibero-americano, desde que, em 1995, a fundou juntamente com aquele escritor colombiano, vencedor do Nobel da Literatura de 1982. Na altura em que acabam de se comemorar os 50 anos da publicação de Cem Anos de Solidão, Jaime Abello veio recentemente a Lisboa participar num debate da Fundação José Saramago sobre o legado jornalístico de García Márquez e o futuro do jornalismo.
García Márquez considerava o jornalismo “o melhor ofício do mundo”. Diria o mesmo hoje?
Creio que sim, embora não relativamente à situação salarial ou à segurança laboral, mas no sentido em que o jornalismo é uma vocação de serviço público, que se exerce principalmente através da palavra, das ideias, dos relatos. É uma oportunidade para dar à sociedade uma compreensão de processos e de situações de um modo que também permita ao jornalista ser criativo, atrair o leitor. Para García Márquez foi um ofício fundamental, converteu-o de aprendiz num verdadeiro escritor. Punha-o em contacto com o mundo, permitia-lhe exercitar diariamente a escrita e colocava-o perante a necessidade de produzir de maneira rápida, constante.
Foi uma influência que provavelmente não se exerceu só na técnica narrativa.
Certamente não seria o mesmo escritor, nem teria tratado os mesmos temas, se escrevesse a partir de um gabinete académico ou se enveredasse pela aventura de ser escritor profissional. O jornalismo levava-o para a rua, para a vida. E também encontrou na redação um ambiente de certa fraternidade, de inteligência, de preocupações políticas e criativas. De resto, ele sempre agradeceu muito o papel que os seus editores tiveram como mentores do seu próprio trabalho de escritor.
A vossa Fundação acaba de organizar um debate sobre a pós--verdade. O que já é possível dizer sobre isso, sendo um fenómeno tão recente?
É um fenómeno recente e, ao mesmo tempo, muito antigo. As mentiras sempre foram um recurso de habilidade e, às vezes, de perfídia, para ganhar o controlo da narrativa pública. Sabemos que, no fundo, a política e a vida social são conflitos de narrativas, e que muitas vezes os paradigmas de compreensão da realidade são definidos em função dos poderes do momento. A história da condição humana é uma história de luta pela verdade, contra a mentira, a manipulação, a versão fabricada, os rumores. Quando o jornalismo se institucionalizou como profissão, entre o séc. XIX e o séc. XX, colocou a si próprio um compromisso com a verdade. Mas sempre houve jornalismo ético e falso jornalismo. Hoje, o que temos de novo são aceleradores tecnológicos, a internet e as redes sociais, que permitem pôr mais rapidamente em evidência as contradições, as mentiras, embora também seja possível difundi-las bem mais depressa do que antes. E por trás das fake news há interesses muito poderosos.
De vários tipos, não é?
Como se viu, ainda há pouco a Rússia foi acusada de manipular as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Mas há também quem faça das notícias falsas um negócio através das plataformas digitais, pois basta um clique para aumentar audiência e, assim, o lucro. E há ainda o caso da propaganda política, feita por consultores, que em vez de ser feita abertamente, pode transformar-se numa guerra suja, oculta, para atacar os opositores. Tudo isto coloca problemas ao jornalismo. Em economia há a lei de Gresham, segundo a qual a moeda barata expulsa a moeda de qualidade. O excesso de informação que circula nas redes sociais não é validada, qualificada, produzida profissionalmente. Muita é falsa ou fabricada. E, entretanto, as pessoas também já mudaram de hábitos na sua relação com os media.
Mudaram que hábitos?
Já não estão dependentes, como há 25 anos, da versão de um ou dois jornais que compravam, ou de uma rádio, ou de uma revista. Têm muito mais fontes. O desafio que se coloca ao jornalismo é distinguir-se do resto. O pior que lhe poderá acontecer será ficar sepultado por baixo da falsa informação, do excesso de notícias e de opinião. Tem de dar à audiência um valor de conteúdos que o diferencie claramente. É isso que terá de fazer o jornalismo profissional e organizado como negócio.
Que balanço faz a vossa Fundação da forma como os media norte-americanos estão a lidar com o fenómeno Trump?
Nós, na América Latina, temos regimes presidencialistas. E ao longo da nossa História têm sido uma constante figuras presidenciais fortes, algumas de recorte caudilhista. Ainda recentemente vimos o tipo de relação com a Imprensa que tinha Chávez, e agora Maduro, na Venezuela, Rafael Correa no Equador, ou os Kirchner na Argentina. Conhecemos bem essa espécie de confrontos entre Presidentes e os media.
No caso de Trump, nota-se claramente que o seu estilo colide com a independência dos media.
Mas vê-se também que pelo menos alguns dos media que são líderes converteram isto numa oportunidade. Aproveitaram para afirmar o seu papel de vigilância em relação ao poder e, ao mesmo tempo, para manter um ambiente de crítica aberto a toda a sociedade. Sou leitor do Washington Post e do New York Times e vejo que não se limitam a dar espaço às posições anti-Trump. Fica sempre também claro qual é a versão oficial, a republicana.
No vosso site criaram uma espécie de 'Quizz' para treinar os jornalistas a distinguir notícias falsas de verdadeiras. Até que ponto isso é possível?
Trata-se sobretudo de fomentar uma atitude de alerta. Criámos um consultório ético online, para resolver dúvidas de jornalistas de todas as partes do mundo e que pode ser consultado não só em espanhol, mas também em português. Aliás, quase metade dos trabalhos finalistas do nosso Prémio Gabriel García Márquez de Jornalismo são em português, sobretudo do Brasil. A ética, através da verificação, é algo que interessa a todos. Um dos projetos que temos para este ano é abrir esta espécie de exercícios de reflexões a todos os cidadãos.
O vosso consultório ético aborda, por exemplo, o terrorismo. Critica a divulgação de imagens de feridos, de pessoas a correr, do som de ambulâncias e até dos meios usados pelos terroristas para iludir a segurança. O que resta então para noticiar, em caso de atentado?
Além de vários convidados sobre esse tema, temos um perito principal, jornalista e professor respeitadíssimo. Abrimos o debate com ele, mas não quer dizer que o seu texto represente a posição oficial da Fundação. Cada caso pode prestar-se a diferentes interpretações. O que tentamos promover é o cuidado, o contrário da ligeireza no tratamento do tema. Quem ler atentamente as recomendações, vê que são apenas orientações. Mas temos a noção de que este consultório chega a jornalistas que estão praticamente sozinhos, seja na sua redação ou na província, e que muitas vezes são pessoas expostas a ameaças, a riscos, a situações complicadas. Procuramos ser úteis. O mais importante é criarmos o sentido de responsabilidade, mas não pretendemos dar uma resposta ortodoxa.
Que balanço faz de um fenómeno como o Wikileaks?
Mostrou-nos o lado B, o lado obscuro, ao trazer à luz uma grande quantidade informação tida por confidencial. O poder maneja-se com informação. E, ao mostrar a que foi ocultada, deixou claro que isto nem sempre é um jogo inocente. A sociedade deve estar cada vez mais consciente de que há interesses, há espionagem, há manipulação, há redes ocultas. Nesse sentido, quem serviu de veículo de informação, a Wikileaks, assim como quem foi fonte, Chelsea Manning, entretanto indultada, prestaram um serviço à sociedade.
Vê a Wikileaks como um caso de serviço público, portanto?
Claro. E para o jornalismo representou uma oportunidade, já que foi fornecido o material em bruto. Mostrou que jornalismo não é apenas libertar informação. Há que valorizá-la, organizá-la, hierarquizá-la e interpretá-la. Mas a Wikileaks como organização acabou por se converter também numa espécie de ator político, em função de interesses, sobretudo do seu fundador, Julian Assange. Por isso, tem méritos e também aspetos questionáveis. O balanço é que o acesso à informação deve ter um valor jurídico, deve considerar-se um direito humano e torná-lo realidade. Já no caso dos Panama Papers a divulgação foi mais ordenada.
Partiu de um consórcio de jornalistas.
Tratou-se de uma modalidade de jornalismo em colaboração, uma aliança mundial de jornalistas de investigação e houve uma política editorial partilhada de forma muito clara. Tentou mostrar-se como funcionam os paraísos fiscais e dar a conhecer casos de fraudes. Nesse sentido, creio que foi uma experiência mais enriquecedora. São duas partes de um processo do nosso tempo que há que valorizar positivamente. Mas também não podemos iludir-nos e pensar que a solução agora é trazer tudo à luz do dia.
E quanto a resultados, o que achou dos Panama Papers?
Evidentemente que, nalgumas partes do mundo, teve impacto político e noutras não. Isso dependeu de cada país. O importante é que se mostrou o modus operandi das finanças ocultas, que muitas vezes estão associadas à corrupção, à fuga aos impostos. O Estado, que tem o poder de mudar as coisas, parece disposto a manter esses paraísos fiscais. Mas hoje temos uma geração de pessoas mais esclarecidas. E as eleições em cada país mostrarão até que ponto os cidadãos querem eleger pessoas mais comprometidas com a transparência, com a honestidade.
Apesar de todos estes fenómenos, continua a não se ver uma saída para a crise da Imprensa.
O jornalismo nasceu associado à luta política e à informação comercial. Depois, profissionalizou-se e converteu-se em verdadeiro serviço público para a democracia. A internet pôs a circular muito mais informação, muito mais opinião, mas a publicidade passou a ser mais controlada pelas plataformas digitais do que pelos media. Mudaram as regras. O que fazia as pessoas comprarem os jornais era a informação, fosse a noticiosa ou a opinativa. Hoje, tudo isso se partilha online. A economia dos media mudou. Nós, na Fundação, promovemos umas 150 iniciativas por ano, algumas presenciais, como workshops e seminários. Criámos o prémio de jornalismo e estamos sempre a acompanhar as tendências e a interagir.
E que tendências vão registando?
Tudo o que sentimos é que estamos numa época de readaptação, com o surgimento de novas formas de jornalismo e também de novos projetos jornalísticos, que muitas vezes têm de se viabilizar economicamente de modo pouco convencional. Assim como vão surgindo alianças entre media e outras instituições, como universidades e fundações. É uma época de experimentação de fórmulas, de procura de novas narrativas e nichos. Agrada-nos muito poder premiar a inovação jornalística. A atitude correta é estarmos abertos à inovação. Ao mesmo tempo, devemos tentar manter os terrenos conquistados, defender a existências da empresa jornalística tradicional, a sua presença no mercado, assim como o trabalho digno dos jornalistas.
Os grandes diários têm vindo a desaparecer.
E outros a nascer.
Há quem acredite que a solução dos diários estará em edições em papel só ao fim de semana. Nos outros dias, só estarão online. Que lhe parece?
As pessoas leem hoje muito mais jornais. Só que não os leem em papel, mas nas plataformas digitais. Infelizmente, essa maior circulação não se traduz em lucro. É uma crise de adaptação. O papel que suja as mãos de tinta continua a ter a preferência dos leitores mais tradicionalistas, mas a maioria lê online. Temos de aceitar e defender-nos nos novos cenários.
Fonte: Entrevista publicada na VISÃO 1271 de 13 de julho
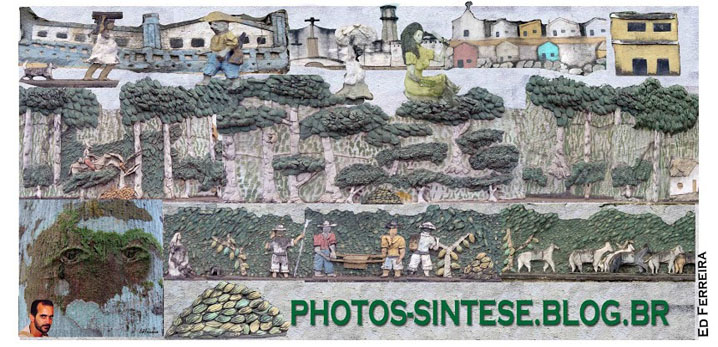
Nenhum comentário:
Postar um comentário